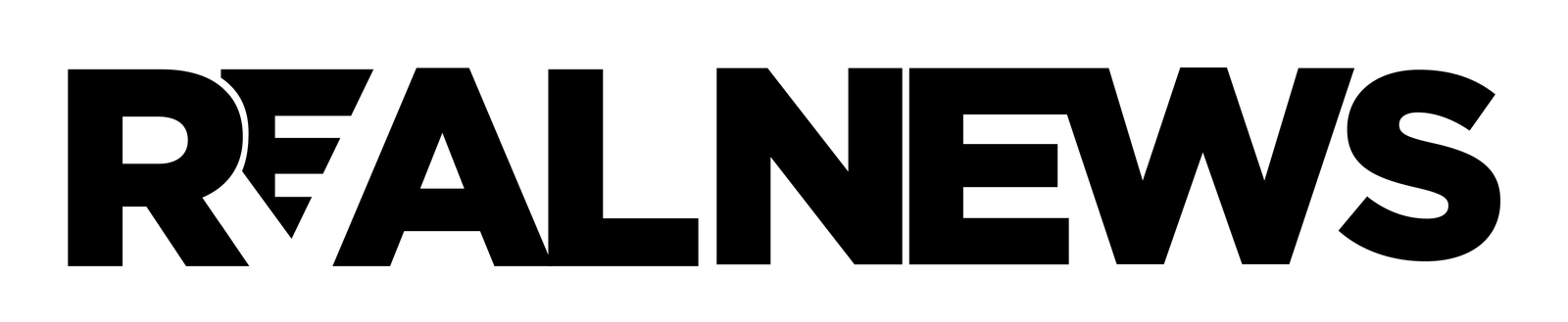Há momentos em que as instituições são postas diante de um espelho cruel. O julgamento do núcleo central da trama golpista levou o Brasil a encarar o próprio risco de ruptura — e, por hora, o país escolheu a Constituição. Ao votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros envolvidos, a ministra Cármen Lúcia consolidou a maioria na Primeira Turma do STF (3 a 1) e reafirmou, com clareza, que não há espaço para aventuras autoritárias. É um marco: o tribunal reconhece a gravidade de um plano escalonado para subverter o resultado eleitoral e constranger os Poderes, algo amplamente descrito na denúncia e confirmado, em plenário, pela ministra.
Não se trata de entusiasmo punitivista; trata-se de responsabilidade republicana. A ministra ancorou seu voto na materialidade dos crimes — tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado — e na arquitetura legal que o próprio Congresso aprovou ao tipificar ataques ao regime democrático na Lei 14.197/2021 (arts. 359-L e seguintes). Ao fazê-lo, ela vincula o juízo moral ao dever jurídico: proteger a democracia é aplicar a lei, não retórica.
O voto de Cármen Lúcia não é um gesto isolado: ele se soma aos de Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino, que descreveram uma engrenagem organizada de descrédito às instituições combinada com atos concretos — uma sequência que culminou no 8 de janeiro. A ministra vocalizou, de modo didático, o óbvio institucional: a tentativa já consuma os crimes contra a ordem democrática, porque a Constituição não negocia as regras do jogo com quem quer derrubá-las. A contundência do voto decorre dos fatos, não de adjetivos.
Dissensos são parte da vida de um tribunal. Mas Luiz Fux escolheu um caminho que o deixa politicamente e institucionalmente isolado dentro do próprio colegiado: foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro, num pronunciamento que consumiu mais de 12 horas, e que rebaixou ataques organizados à Justiça Eleitoral ao patamar de “manifestações políticas”. O contraste com a maioria é frontal — e terá efeitos: a posição de Fux dificilmente encontrará abrigo na comunidade jurídica que leu as mesmas provas e viu uma trama concertada; dentro do STF, ficará registrada como dissidência solitária no julgamento mais sensível da década. Ainda que ele tenha proposto punir Braga Netto e Mauro Cid por abolição violenta, sua tese central não se sustentou diante dos elementos apresentados.
A defesa do Estado Democrático de Direito não é capricho de juristas. Golpes custam caro. A literatura econômica é robusta: golpes e instabilidade política elevam o custo da dívida soberana, deprimem investimento e reduzem crescimento; democracias estáveis, ao contrário, produzem ganhos de renda no longo prazo. No limite, conflitos e rupturas estão associados a perdas persistentes de PIB per capita. O Brasil já pagou demais por crises de credibilidade; aceitar a naturalização de uma tentativa de ruptura seria repetir velhos erros com a conta multiplicada.
A crítica a quem defende, incentiva ou relativiza golpe de Estado precisa ser direta: não é “opinião” inocente — é ataque à soberania popular. A Constituição de 1988 e a legislação penal vigente tratam crimes contra a democracia com a gravidade devida. E a própria jurisprudência recente do STF tem sinalizado que anistias não são um salvo-conduto para atentados contra o regime democrático. Transformar a violência política em “expressão” é apagar o direito dos demais: o de votar, alternar o poder e viver sem medo.
Ao sustentar que a prova é cabal de um plano progressivo para deslegitimar as urnas e constranger os Poderes, Cármen Lúcia faz mais do que condenar indivíduos: traça um limite para o futuro. O recado é inequívoco: usar a máquina do Estado para subverter a democracia é crime — e será tratado como tal. O Brasil não precisa de bravura performática; precisa de instituições previsíveis, capazes de dizer “não” quando o autoritarismo bate à porta.
No fim do dia, democracia é método — voto contado, regra respeitada, oposição garantida — e é também cultura cívica. O STF, com a maioria formada, cumpre seu papel de última trincheira. O país precisa cumprir o seu: premiar o comportamento leal à Constituição e rechaçar, sem eufemismos, o projeto de força que tenta sequestrar o Estado para si. A decisão de hoje não encerra o debate, mas recoloca as coisas no lugar: política se faz nas urnas; crime, nos autos.
Foto: Sergio Lima / AFP