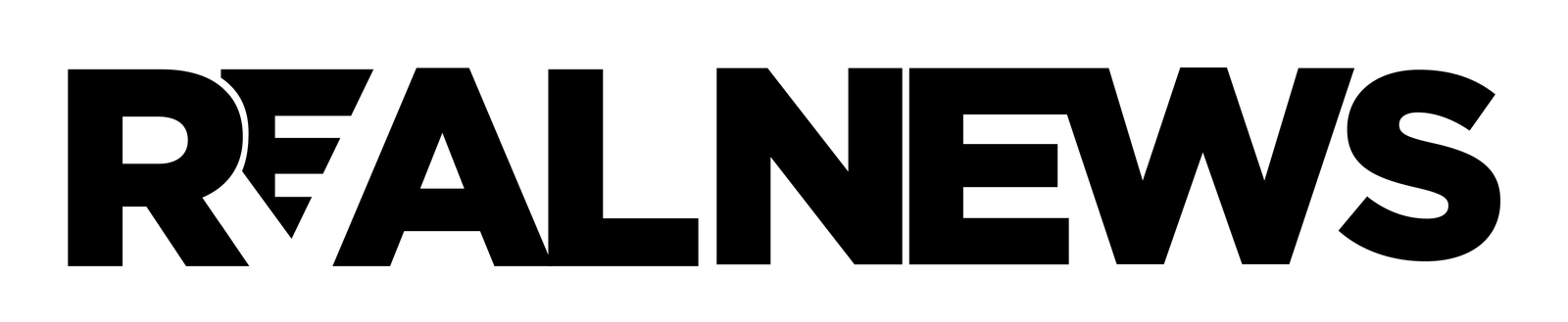Este ano foi marcado por reencontros com memórias antigas, desafios inesperados e, sobretudo, pela força das redes de apoio. Algumas delas ressurgiram quando eu menos esperava e me ajudaram a fazer algo essencial: expressar o que sinto e transformar vivências pessoais em informação que também possa acolher outras pessoas.
De forma abrupta, uma dessas redes se encerrou. Ainda assim, diferente de outros momentos da minha trajetória, não abandonei o jornalismo nem caí no chamado “buraco negro”. Em vez disso, uma nova rede aquela que sempre esteve presente, voltou a se fortalecer. É nela que sigo me apoiando para escrever, refletir e ajudar quem enfrenta dores parecidas com as minhas.
Na primeira experiência recente, atuei como produtora. Avalio que desempenhei bem o papel: enfrentei medos, aprendi sobre respeito no ambiente profissional e amadureci nas relações com colegas. Houve falhas de comunicação, inclusive comigo mesma, e o encerramento desse ciclo foi vivido como um luto breve, de uma ou duas semanas.
O retorno ao jornalismo, porém, foi mais consciente. Continuei escrevendo para a rádio que sempre representou minha principal rede de apoio profissional, não pessoal. Sempre tive o hábito de guardar medos e tristezas. Com o tempo, percebi que falar também é uma forma de cuidado: comigo e com outras pessoas. Um exemplo disso é o relato sobre a espera por atendimento neurológico, tema que transformei em pauta ao perceber que não é uma vivência isolada.
Paralelamente, um interesse crescente ganhou espaço: a inteligência artificial. Quem acompanha meu Instagram percebe como esse tema me fascina e me inquieta. Essa reflexão ganhou novos contornos ao assistir, por acaso, ao filme “A Grande Inundação”, lançado na Netflix em 19 de dezembro de 2025.
À primeira vista, o longa parece seguir a fórmula clássica de produções internacionais sobre catástrofes, em que tudo tende a um desfecho previsível ainda que trágico. Em alguns momentos, a narrativa remete até às enchentes vividas no Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo da história, o roteiro desloca o foco para uma discussão mais profunda.
Um dos personagens revela que precisa da mãe de um menino porque ela é a única capaz de “criar pessoas” por meio da inteligência artificial. A colega que dominava essa tecnologia morreu, e resta a promessa de um helicóptero que levaria ela e o filho. Em determinado ponto, fica claro que o menino teria de permanecer na Terra. A mãe se revolta: não aceita abandonar o filho. Em outra cena, surge a proposta de criar humanos sem sentimentos, ideia prontamente rejeitada por ela, que defende que sentir é parte essencial da existência.
A pergunta que sela o conflito é direta e incômoda: quando o resgate chegar, você acha que não haverá pessoas dispostas a derrubar outras para garantir um lugar? A resposta silenciosa é um acordo com a dura realidade.
O filme se constrói em ciclos, repetindo acontecimentos até o desfecho final, que surpreende justamente por dialogar com escolhas, perdas e recomeços. É impossível não traçar paralelos com a vida profissional, com os ciclos que se encerram e com a necessidade de seguir, mesmo quando o apoio muda de forma.
A reflexão final ultrapassa a ficção. Se, daqui a 30 anos, a humanidade caminhar para uma existência cada vez mais “robótica”, sem emoções, o impacto será profundo. Filmes, notícias, séries e até propagandas deixarão de carregar aquilo que hoje os torna humanos: sentimento, empatia e experiência vivida.
O jornalismo, assim como a arte e a tecnologia, só faz sentido quando preserva o que nos diferencia das máquinas.
Reflita sobre isso.