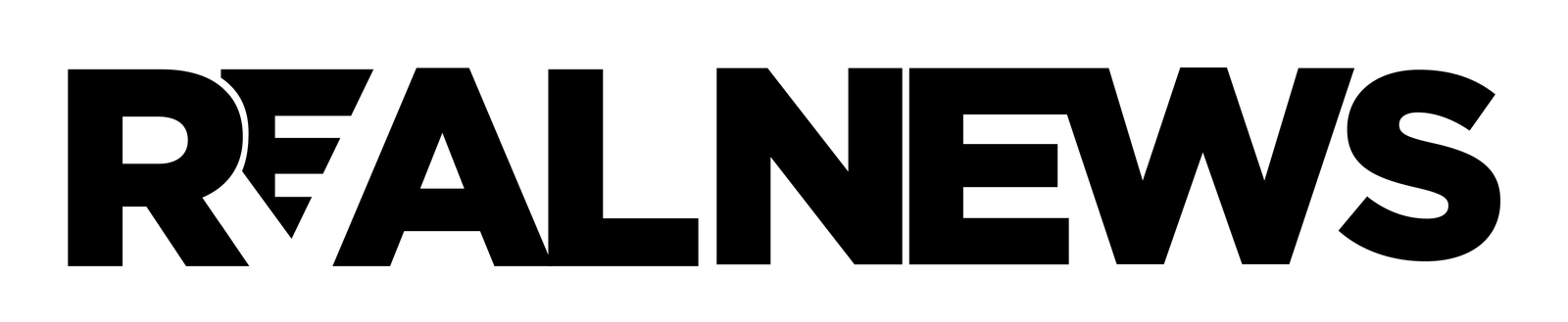Enquanto sinais de uma possível nova guerra surgem no cenário internacional, a principal emissora do país segue com sua programação habitual, como se nada estivesse acontecendo. No horário nobre, novelas com imigrantes italianos romantizam o passado; em seguida, programas de entretenimento ocupam o espaço que, em momentos de crise global, deveria ser prioridade do jornalismo. O resultado é um silêncio que incomoda.
A ausência de debate contrasta com discursos públicos de figuras midiáticas. Marcos Mion, por exemplo, hoje apresentado como referência de inclusão, tornou-se alvo de críticas por sua postura considerada contraditória. Isso porque foi durante o governo Bolsonaro que foi sancionada a lei que ampliou direitos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, batizada com o nome de seu filho, Romeo. Ainda assim, o apresentador se consolidou em uma emissora frequentemente associada a uma linha editorial de esquerda, o que levanta questionamentos sobre coerência e conveniência.
Vinda de uma família onde política não era tabu, mas assunto de mesa — com comitês improvisados dentro de casa e avós que respiravam debate político —, não é possível ignorar os impactos reais de guerras e regimes autoritários. A história mostra que tanto conflitos armados quanto ditaduras não ferem principalmente os políticos ou os grandes empresários, que se refugiam em palácios, bunkers ou no conforto do dinheiro. Quem sofre é o povo.
A população pobre, especialmente, torna-se refém da esperança mínima: não ser torturada, não ser morta, conseguir fugir para ilhas, florestas ou fronteiras incertas — mesmo que isso signifique fome, miséria e abandono. Muitas dessas pessoas não estavam em combate, apenas tentando ajudar outras pessoas comuns, “pessoas de bem”, a sobreviver.
Nesse contexto, o governo brasileiro condenou de forma contundente os recentes bombardeios em território venezuelano e a captura do presidente do país, classificando as ações como uma ultrapassagem de uma “linha inaceitável” e uma “afronta gravíssima à soberania nacional”. Em pronunciamento oficial, o Brasil afirmou que os ataques representam uma escalada perigosa para a estabilidade regional.
Segundo a nota, a ofensiva configura uma “flagrante violação do direito internacional”, enfraquecendo princípios fundamentais do multilateralismo e abrindo espaço para um cenário de caos, no qual prevaleceria a chamada “lei do mais forte”. O governo alertou que esse tipo de postura compromete esforços coletivos de resolução pacífica de conflitos.
O texto também destaca que essa condenação é coerente com a posição diplomática brasileira em outras crises recentes, reforçando a defesa do diálogo, da legalidade internacional e da solução negociada de controvérsias. Ao contextualizar o episódio, o pronunciamento afirma que a ação remete aos “piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe”, colocando em risco o compromisso histórico da região como zona de paz.
Por fim, o Brasil apelou para que a comunidade internacional responda de maneira firme por meio das Nações Unidas, reiterando sua disposição de atuar na promoção do diálogo e da desescalada das tensões.
Ainda assim, fica a pergunta: por que o presidente Lula deseja se envolver diretamente nesse cenário? Não bastou o passado do regime militar, que ele próprio afirma ter vivido sob tortura? Há quem veja nesse movimento um risco desnecessário. Em um tabuleiro geopolítico frágil, qualquer passo em falso pode custar caro — especialmente para um país como o Brasil.
Há o temor de que conflitos externos, aliados a tensões ideológicas internas, empurrem o país para um isolamento ou até para uma guerra indireta, agravando a pobreza e a instabilidade econômica. Não se trata de esquerda contra direita, nem de consumo, marcas ou produtos. A questão central é o poder: políticos e elites se fortalecendo enquanto a população paga a conta.
É hora de refletir. Guerras não engrandecem nações — apenas concentram poder no topo e sofrimento na base.